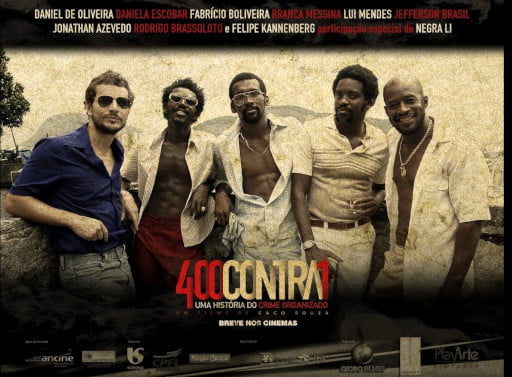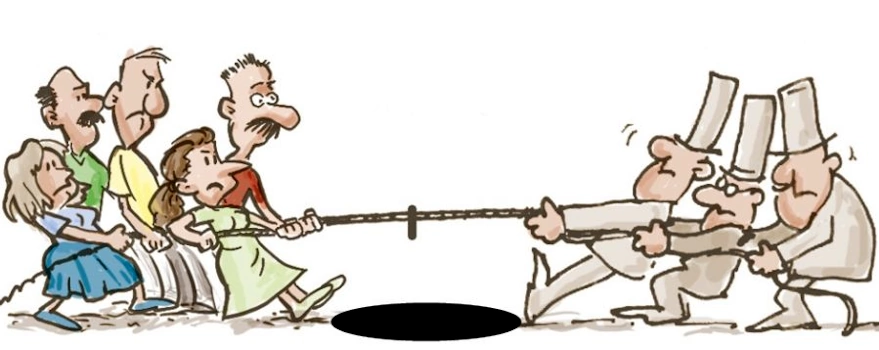Nesta entrevista, Vito Letizia propõe um retorno à crítica da economia política de Karl Marx e uma releitura da experiência histórica da esquerda.
“A esquerda deve lutar para que o povo brasileiro tenha acesso a tudo o que lhe foi historicamente negado. Mas, absolutamente tudo lhe foi negado: a terra, o próprio país”, afirma com surpreendente energia e entusiasmo o economista Vito Letizia. Aos 73 anos, o velho guerreiro trava uma batalha duríssima com o câncer, cujos sintomas simplesmente desaparecem quando ele se deixa levar pelo entusiasmo da discussão. Leitor profundo e rigoroso de Karl Marx, Letizia é um crítico implacável dos métodos e concepções sobre classes sociais, partidos revolucionários e direções adotados pela assim chamada esquerda marxista – leninista – trotskista, solo em que germinou, floresceu e ganhou maturidade a sua própria história como militante revolucionário. A demolição do conceito de “vanguarda” é peça central de sua crítica.